

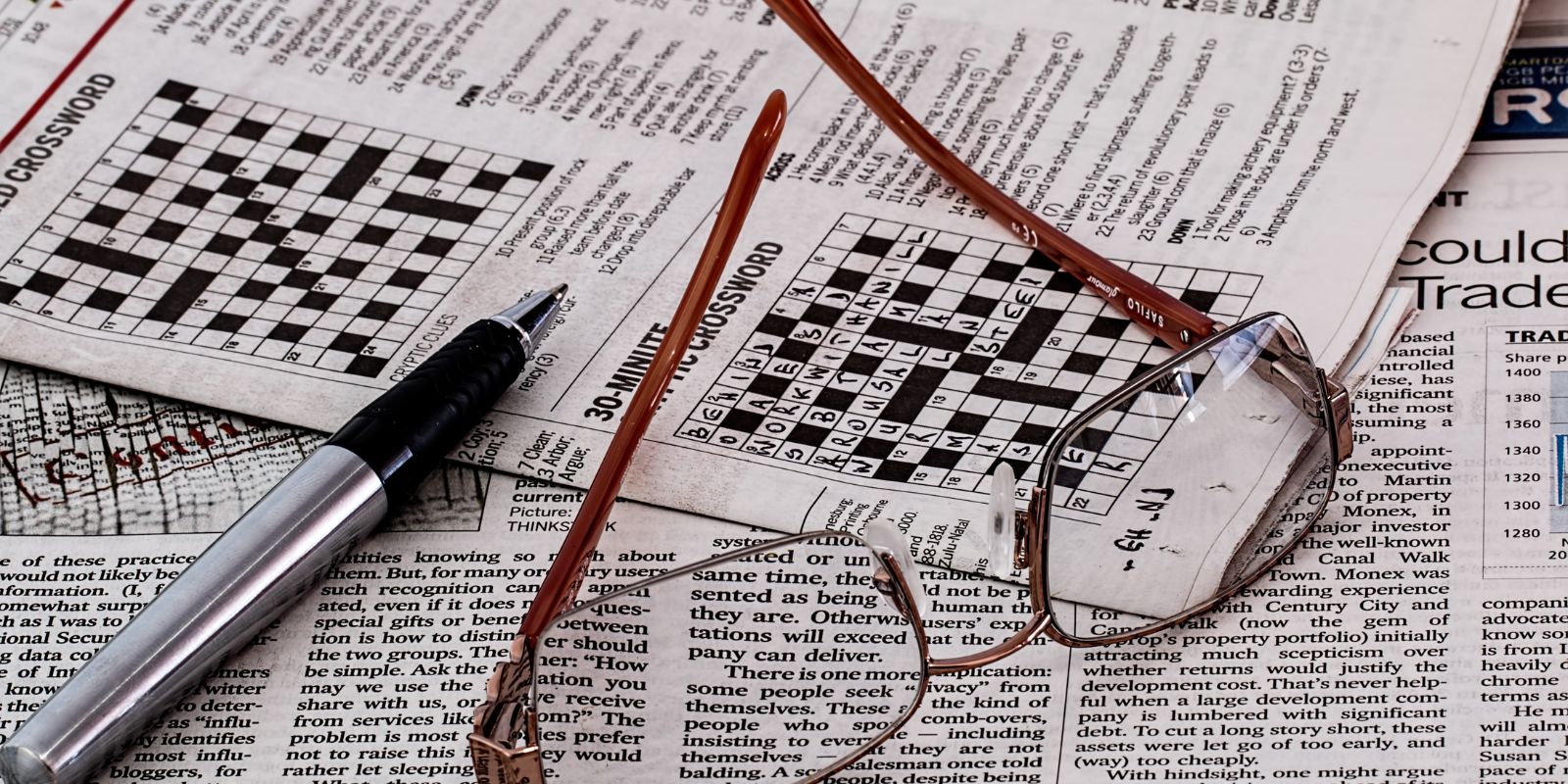
“Gostou?”, a pergunta flutua na tela do celular, acompanhada da foto de uma placa de argila recortada no formato de um naipe de espadas. Observo melhor os traços finos cavados na superfície achatada e percebo que imitam escamas. Um peixe. Mais um, aliás, da série em que meu namorado, ceramista de mão cheia, vem trabalhando.
Gosto, claro. As peças, todas elas, estão ficando um primor. Naquela da foto, falta talvez um detalhezinho, e é isso o que, depois de alguns segundos refletindo, tento transmitir ao artista. “E se tu fechasse a… a… a…”. A palavra não vem, e eu começo a entrar em pânico. Importante ressaltar que não, não namoro um estrangeiro. A língua que mordo é a minha. Língua materna, nativa e íntima. No desespero, peço ajuda: “como é mesmo o nome do braço do peixe?”.
Braço do peixe. Braço do peixe.
Episódios como esse têm sido cada vez mais comuns. Memória nunca foi o meu forte, assumo, mas minha deficiência na retenção de informações tem atingido níveis periclitantes. E, a partir dos relatos de pessoas próximas, vejo que não é só comigo. Trata-se de um problema generalizado. Geracional, até. Pouco importa que, um dia, tenhamos sido capazes de decorar cada etapa do Ciclo de Krebs ou de entender todas as nuances da Hermenêutica Constitucional contemporânea. O fato é que, hoje, nossa reminiscência se tornou evanescente – lembranças derretem como algodão doce em contato com a água.
Por que estamos perdendo nossa capacidade de memorização?
Primeiro, o envelhecimento. Telômeros se encurtam, ossos se reabsorvem, coxins malares se afrouxam. Previsível que, depois de anos puxando o cabelo (muitas vezes nem tão metaforicamente assim), sobrasse também para o coitado do cérebro. A massa cinzenta diminui de volume, a irrigação sanguínea mingua. Os neurônios, aqueles que restaram, seguem abatidos, desgastados, e, teimosos como um senhorzinho rabugento, se recusam a recorrer a antigas sinapses. Nesses casos, excluídos quadros patológicos, o esgarçamento da memória é natural e até desejado: a alternativa é ter morrido. Entre gaguejar à procura de um nome e partir dessa para uma melhor (ou pior), a maioria haveremos de ficar com a primeira opção.
Em segundo lugar, os hábitos de saúde, sobretudo o que ingerimos. Dizem que, consumindo menos alimentos pró-inflamatórios, dissipamos a tal da brain fog, a sensação de que, dentro da cabeça, uma espécie de névoa nos impede de encontrar o que quer que estejamos procurando – para alcançar a palavra justa ou capturar a ideia perfeita, batemos mindinhos mentais em quinas psíquicas e, às vezes, nunca chegamos a escapar do labirinto. Uma grande amiga, aliás escritora também, acaba de cortar açúcares, refrigerantes e frituras. Ela me disse que melhorou muito. Pena que, para mim, essa drástica medida seria impossível. Além das toxinas, a dieta levaria embora o restinho de felicidade cotidiana que essas comidas me trazem.
Em terceiro lugar, as sequelas neurológicas decorrentes da contaminação por SARS-CoV-2. Cientistas falam em resposta imune, hipóxia, declínio cognitivo, uma gama de termos técnicos que, numa tradução meio perversa, transpõem para a fisiologia cerebral o que o brasileiro já sabia com o fígado: a Covid-19 é um mal de lacunas irreparáveis. Será que são mais de 700 mil as sinapses que morreram em quem sobreviveu à doença?
Depois, o cansaço crônico. Para mim, tem sido assim: quando, toda manhã, acordo de sonhos intranquilos, é com muito pesar que descubro que não me metamorfoseei num inseto monstruoso e que, por isso, preciso me levantar e encarar um dia de humaníssimas obrigações. Além do trabalho principal, aquele que paga as contas, há também um (ou dois, ou três) trabalhos paralelos, aqueles em que a gente insiste mais por paixão (que, lembremos, é uma forma de loucura) do que por razão. Fora as plantas para regar, as idas ao mercado, as faxinas na casa, os gatos para alimentar, a família para visitar, os amigos para entreter, a crônica para escrever, o Reels para montar, o idioma estrangeiro para aprender, a pós-graduação e o mestrado que, por quê, meu Deus?, a gente deu de querer fazer. E tudo cansa. Tudo. Tudo toma espaço em nossa máquina intracraniana. Superaquecido, superatribulado, superlotado, nosso cérebro range e estala e solta fumaça, como se prestes a pifar.
Por fim, podemos pensar que o buraco do nosso esquecimento é mais embaixo – não na cabeça, mas ali, no meio do peito, bem onde fica o coração. Como antídoto à pieguice, que nos ajude a etimologia: estamos perdendo nossa capacidade de memorização porque talvez estejamos perdendo nossa capacidade de recordação. Se recordar vem do latim recordare, fazer passar de novo pelo coração, talvez esteja nele, e não no cérebro, o que precisa ser consertado. Com informações em excesso e tempo em rarefação, passamos pela superfície de tudo, sem arranjar pouso ou pausa em canto nenhum. Sem receber nossa atenção plena, as coisas deixam de importar – e, se não importam, tornam-se descartáveis, esquecíveis.
Independentemente da causa, o que de fato causa terror é a pergunta que sempre vem depois: há remédio possível? Sequer me atrevo a investigar.
E é nadadeira. O nome do braço do peixe é nadadeira. Me lembrei logo depois, quando, cheio de angústia, comecei a ruminar as hipóteses que deram estofo a essa crônica. Corri para anotá-las porque sabia que, do contrário, em instantes ia acabar me esquecendo de tudo.


Data de Lançamento: 27 de junho
Divertidamente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, com 13 anos de idade, passando pela tão temida pré-adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva (Lewis Black), Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que desde quando Riley é bebê, eles predominam a central de controle da garota em uma operação bem-sucedida, tendo algumas falhas no percurso como foi apresentado no primeiro filme. As antigas emoções não têm certeza de como se sentir e com agir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Inveja (Ayo Edebiri), Tédio (Adèle Exarchopoulos) e Vergonha (Paul Walter Hauser) integrarão juntos com a Ansiedade na mente de Riley, assim como a Nostalgia (June Squibb) que aparecerá também.


Data de Lançamento: 04 de julho
Ainda Temos o Amanhã situa-se na Itália, em uma Roma do pós-guerra dos anos 1940. Dividida entre o otimismo da libertação e as misérias, está Delia (Paola Cortellesi), uma mulher dedicada, esposa de Ivano (Valério Mastandrea) e mãe de três filhos. Esses são os papéis que a definem e ela está satisfeita com isso. Enquanto seu marido Ivano age como o chefe autoritário da família, Delia encontra consolo em sua amiga Marisa (Emanuela Fanelli). A família se prepara para o noivado da filha mais velha, Marcella (Romana Maggiora Vergano), que vê no casamento uma saída para uma vida melhor. Delia recebe uma dose de coragem extra para quebrar os padrões familiares tradicionais e aspira a um futuro diferente, talvez até encontrar a sua própria liberdade. Tudo isso após a mesma receber uma carta misteriosa. Entre segredos e reviravoltas, este drama emocionante explora o poder do amor e da escolha em tempos difíceis.


Data de Lançamento: 04 de julho
Entrevista com o Demônio é um longa-metragem de terror que conta sobre o apresentador de um programa de televisão dos anos 70, Jack Delroy (David Dastmalchian), que está tentando recuperar a audiência do seu programa, resultado da sua desmotivação com o trabalho após a trágica morte de sua esposa. Desesperado por recuperar o seu sucesso de volta, Jack planeja um especial de Halloween de 1977 prometendo e com esperanças de ser inesquecível. Mas, o que era para ser uma noite de diversão, transformou-se em um pesadelo ao vivo. O que ele não imaginava é que está prestes a desencadear forças malignas que ameaçam a sua vida e a de todos os envolvidos no programa, quando ele recebe em seu programa uma parapsicóloga (Laura Gordon) para mostrar o seu mais recente livro que mostra a única jovem sobrevivente de um suicídio em massa dentro de uma igreja satã, Lilly D’Abo (Ingrid Torelli). A partir desse fato, o terror na vida de Jack Delroy foi instaurado. Entrevista com o Demônio entra em temas complexos como a fama, culto à personalidade e o impacto que a tecnologia pode causar, tudo isso em um ambiente sobrenatural.
https://www.youtube.com/watch?v=JITy3yQ0erg&ab_channel=SpaceTrailers


Data de Lançamento: 04 de julho
Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta, que virou agente da Liga Antivilões, retorna para mais uma aventura em Meu Malvado Favorito 4. Agora, Gru (Leandro Hassum), Lucy (Maria Clara Gueiros), Margo (Bruna Laynes), Edith (Ana Elena Bittencourt) e Agnes (Pamella Rodrigues) dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal (Jorge Lucas) que acaba de fugir da prisão e agora ameaça a segurança de todos, forçando sua namorada mulher-fatal Valentina (Angélica Borges) e a família a fugir do perigo. Em outra cidade, as meninas tentam se adaptar ao novo colégio e Valentina incentiva Gru a tentar viver uma vida mais simples, longe das aventuras perigosas que fez durante quase toda a vida. Neste meio tempo, eles também conhecem Poppy (Lorena Queiroz), uma surpreendente aspirante à vilã e os minions dão o toque que faltava para essa nova fase.